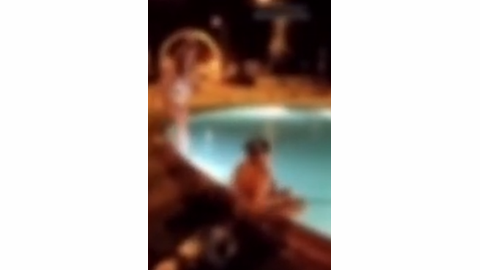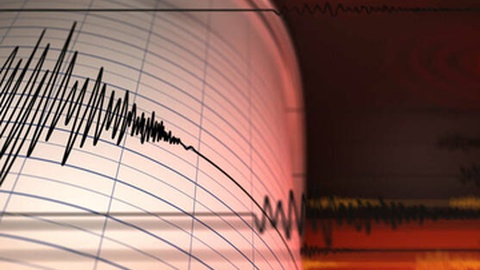Não é para todos
O sino da igreja toca a anunciar a missa de sábado tal e qual como antes, nos meus 13 ou 14 anos, quando a minha mãe me mandava varrer o quintal e eu demorava horas a arrastar vasos e a arrastar-me entre canteiros, degraus e terraços que pareciam não acabar. Nos dias de semana a casa e o jardim eram insignificantes e pequenos; aos sábados ganhavam tamanho quando me via de vassoura e pano do pó na mão.
E eu imaginava que longe dali, para lá da curva do Jamboto e depois do Campo do Marítimo, as pessoas viviam de maneiras mais interessantes, tinham férias e fins-de-semana ao sol. A minha cabeça não ia além da Ponta Gorda onde, às vezes, os meus vizinhos da frente me levavam a passar o dia numa daquelas barracas de praia. Ou à Barreirinha que, nesse tempo, ficava tão cheia que nunca sobrava espaço para estender a toalha.
Ninguém se atrapalhava por causa disso e, no fim do dia, via descer do autocarro as vizinhas mais velhas com os cabelos molhados e os ombros vermelhos. A ideia de praia nos anos 80 metia sempre partes do corpo a arder e noites a dormir ou de barriga para cima ou de barriga para baixo. A minha mãe dizia que fazia mal, era do que ouvia na rádio, mas eu trocaria aquela vida de gata borralheira dos sábados pela praia e pelo bronzeado.
Eu tinha tão pouco que me pudesse gabar. Era gorducha, vivia numa casa sem aspirador e sem gira-discos, o meu pai não tinha carro e a minha mãe ganhava dinheiro a bordar lençóis que americanos ricos compravam como artesanato italiano. E todas as quartas-feiras atravessava a cidade carregada de embrulhos só para termos folga nas contas. E, por muito mérito que tivesse a nossa vida no Laranjal, não interessava aos outros, menos ainda aos outros adolescentes.
Um bronzeado intenso, que me tornasse morena no corpo inteiro e não só em metade das pernas e parte dos braços, era capaz me dar outra existência, mais aliciante, menos invisível. Talvez se tivesse para contar a história de quatro escaldões e a semana a dormir numa barraca da praia alguém olhasse de outra maneira e não como a estranha que ninguém entendia as manias.
Como o senhor da loja de loiças que, enquanto a minha mãe pedia um desconto aos quatro pratos a avulso, várias chávenas e uns copos, não conseguiu esconder o espanto que a adolescente tímida e desajeitada tivesse ambição para querer a universidade. “Olhe minha senhora, a universidade é para os filhos dos doutores, não é para todos”. A minha mãe e eu fazíamos parte do “todos”, os excluídos, os que não contavam.
Essa imensa multidão que à hora da missa de sábado à tarde ainda tinha na mão a vassoura. A nossa vida podia ser invisível, mas era asseada e tinha brio.