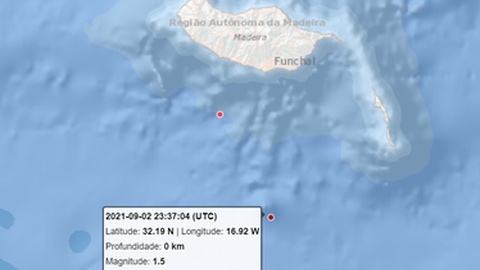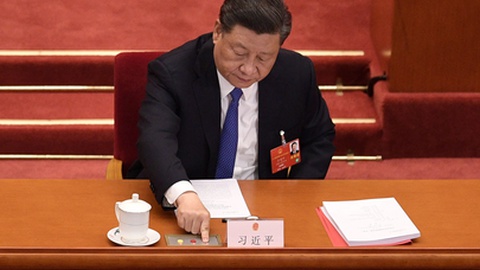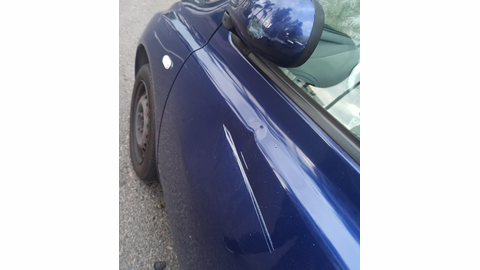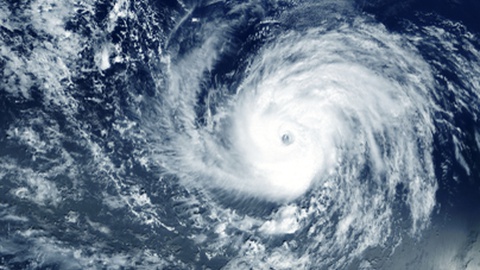Quão fortes são os alicerces da nossa democracia?
A democracia é um processo e, como tal, não é inviolável e é particularmente vulnerável a autoritários populistas
Na homenagem pelos 40 anos do VII Governo Constitucional, que aconteceu esta semana, Pinto Balsemão questionou se é possível ser tolerante com quem é intolerante e deixou um importante aviso: «Sei que, como estamos, com a democracia que temos no presente, não conseguiremos transpô-la, adaptá-la, mantê-la viva e atuante no futuro». Este aviso lembrou-me um livro que li há cerca de três anos e ao qual regresso muitas vezes: Como Morrem as Democracias, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, professores de Ciência Política em Harvard. O livro constitui-se como uma reflexão sobre a política norte-americana nos últimos anos com a chegada de Trump à Casa Branca e sobre outras realidades políticas em que a democracia foi, ou é, um simulacro, ou seja, apenas uma perceção, um fantasma e não uma realidade. Porque, como sublinham os autores, as democracias já não morrem como outrora, de forma explícita e violenta, através de um golpe de Estado que instaura de forma escancarada um regime autoritário; nos últimos 30 anos, as democracias tendem a morrer lenta e silenciosamente. A morte das democracias já não resulta de um acontecimento ostensivo e explícito em que se atravessa claramente a linha para a ditadura. As democracias já raramente terminam com um golpe violento, com o assassinato de alguém ou através da imposição da lei marcial. As democracias morrem, cada vez mais, em silêncio, vítimas de um envenenamento lento e prolongado: «O paradoxo trágico do caminho eleitoral para o autoritarismo é que os assassinos da democracia usam as próprias instituições da democracia – gradualmente, subtilmente e, até, legalmente – para a matar.» A morte começa com a eleição de pessoas que se apresentam com um discurso populista e como membros de uma espécie de clube ou seita, grupos que mantêm um discurso uniformizado e uniformizante que não tolera o pensamento divergente e o debate de posições diferentes. São pessoas e organizações políticas que apanham a boleia de um sistema que não conseguiu proteger as instituições democráticas e as normas que a sustentam, permitindo o surgimento de discursos demagógicos, bélicos e extremados, discursos repetidos até à exaustão que elegem inimigos em vez de adversários.
A História tem demonstrado que é possível, a partir de uma eleição legítima, ou aparentemente legítima, fazer desaparecer progressivamente os mecanismos que asseguram a democracia sem que a maioria dos cidadãos e cidadãs perceba o esboroar desses mecanismos. Vimos isso com a ascensão do Partido Nazi na Alemanha e do Partido Nacional Fascista em Itália. Mais recentemente, um dos casos paradigmáticos é o caso da Venezuela; apesar do esboroar dos mecanismos democráticos pela mão de Hugo Chávez praticamente desde a sua subida ao poder, em 1998, em 2011 uma maioria de 51% de pessoas inquiridas pelo Latinobarómetro considerava que a Venezuela era um regime solidamente democrático.

Muitas vezes, o desaparecimento progressivo dos mecanismos que garantem a democracia é justificado com a necessidade de se aumentar a segurança ou reforçar a resistência perante os inimigos, que podem ser um outro país ou região, os adversários políticos, a comunicação social, muitas vezes tratados como «traidores à pátria» ou «traidores à terra». Quando esse esboroar é levado a cabo por um partido, os adversários políticos são elevados a inimigos da terra e da população, e os discursos tendem a extremar as posições de uma forma muito pouco democrática: assume-se que há apenas uma voz legítima para falar por uma Região ou um País e assume-se um tom de ameaça quando se vocifera que os adversários políticos devem ser presos.
Levitsky e Ziblatt consideram que, perante estes perigos, os partidos deverão ser «guardiões máximos da democracia» e têm a responsabilidade de manter os autoritários «do lado de fora». Os cientistas políticos apontam duas normas democráticas que são absolutamente necessárias: a tolerância mútua e o autolimite. A tolerância mútua implica que os partidos e protagonistas políticos se reconheçam e aceitem como sendo adversários legítimos. O autolimite diz respeito à capacidade para resistir à tentação de se fazer uso das prerrogativas institucionais para obter vantagem sectária.
A partir destas balizas, existem sinais de alerta para os quais todas e todos nós devemos ter especial atenção na análise que fazemos dos comportamentos dos partidos e de quem se apresenta como solução política: a negação da legitimidade dos adversários; a rejeição, por palavras ou atos, das regras democráticas do jogo e o seu cumprimento; a tolerância e o encorajamento de comportamentos violentos; a abertura para restrição das liberdades cívicas de quem é considerado adversário, incluindo os média. Estes são os indícios de que estamos perante uma organização ou uma pessoa que não zela particularmente pela saúde da democracia.
A democracia é um processo e, como tal, não é inviolável e é particularmente vulnerável a autoritários populistas e a intolerantes que se aproveitam dos seus mecanismos para a derrubar. A democracia não está acabada. Como apontou, e bem, Pinto Balsemão, à democracia é essencial a dimensão ética; pode e deve reinventar-se para melhor resistir às investidas que têm o intuito de a aniquilar. E por isso cabe-nos a nós também zelarmos pelo seu cumprimento, resistir às tentativas de distorção e controlo a que muitas vezes assistimos e que serão, em última análise, a sua morte. Mas só se deixarmos.