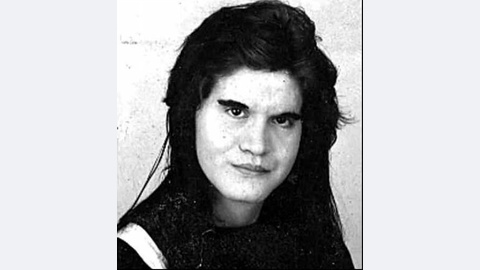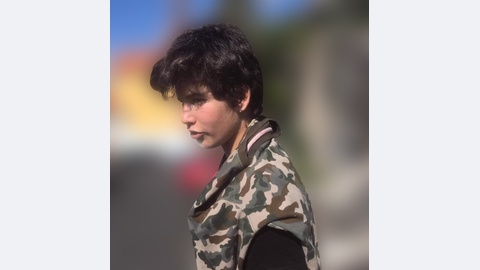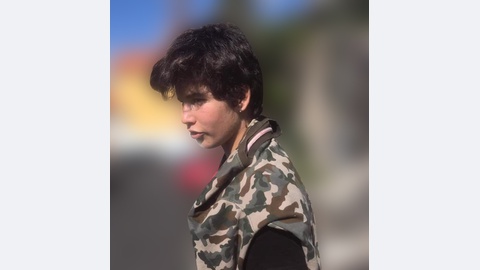O bom, o mau e o narciso
Há dois momentos que definem o tipo de homem que é José Sócrates. O primeiro obriga-nos a recuar dez anos
Macumba. Tupperware. Banana Mix. A inspiração para o batismo criminal pode ser americana, mas, por cá, a denominação de investigações tem requinte literário. Os ingleses usam software que dá nomes aleatórios às operações, nós batizamo-las com ironia e humor. Operação “Carta Fora do Baralho” para uma investigação sobre desvio de correspondência. “Cruz Verde” para assaltos a farmácias. Mas em matéria de nomes, a “Operação Marquês” denota renovada inspiração policial. À primeira vista, o nome vem da proximidade de um apartamento à estátua, mas ao olhar atento não escapa a afinidade entre o engenheiro e o Marquês de Pombal. Os dois primeiros-ministros no seu tempo, os dois caídos em desgraça, acusados de enriquecimento à custa do cargo. O Marquês acabou perdoado pela rainha. Esperemos que as coincidências não cheguem até aí.
O bom: A justiça pós-Marquês

Não há bons nesta crónica. O abismo em que nos colocou a “Operação Marquês”, não o permite. Mas até nos momentos mais negros, há sempre uma lição. O processo de José Sócrates deixou-nos muitas sobre o funcionamento da justiça. A primeira é sobre a dimensão da investigação. A acusação por atacado é uma tentação antiga de quem lidera a ação penal. Não basta prevenir o crime e julgar o arguido, é preciso fazê-lo com proporções épicas. Esse foi o primeiro erro do Ministério Público. Em vez de julgar Sócrates, quis-se julgar todo um regime. Por isso, tentou-se acusar o banqueiro, o administrador, o gestor, o empresário, o construtor. Todos ao molhe e fé no juiz. Esse desejo justiceiro produz boas capas de jornal, mas não serve à justiça. Na verdade, os mega-processos são um convite às prescrições, às acusações que desafiam a prova e caminho certo para o calvário de recursos para onde se arrasta a Operação Marquês. A segunda lição é sobre o tribunal por onde passou o processo. Escreveu-se muito sobre Ivo Rosa, mas muito pouco sobre o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). Ali a justiça faz-se à lotaria de dois juízes. O que tudo permite à acusação e o que tudo garante à defesa. Mais do que antagónicas, no TCIC confrontam-se duas visões inimigas acerca do papel de um juiz de instrução. E o problema não está em quem terá razão, mas na pré-revelação da decisão no momento da distribuição do processo a um dos juízes. A justiça tem de ser previsível e coerente, mas não pode estar predefinida.
O mau: A indústria da indignação

Em Portugal, há quem faça vida da indignação. Há quem veja na prescrição um atalho para livrar os mais ricos da condenação ou quem encontre na presunção de inocência um empecilho à justiça e na inversão do ónus da prova um mal menor. Curiosamente, quem faz da indignação profissão, foi quem mais torceu para que José Sócrates saísse imaculado da decisão instrutória. Porque isso garantiria horas a fio de declarações inflamadas contra a justiça e de juras platónicas ao combate à corrupção. Não é que a decisão de Ivo Rosa não mereça crítica, até indignação. Certamente que merece. A forma como o juiz afastou o crime de fraude fiscal, roça o insulto ao contribuinte. A contagem da prescrição desafia a lógica inerente ao crime de corrupção. Até os epítetos que reservou ao trabalho do Ministério Público – delirante e fantasiosa – ultrapassam o papel do juiz de instrução. O que não pode haver é uma histeria coletiva contra a decisão judicial, alimentada pela indignação profissionalizada, cujo zénite foi uma petição pública para o afastamento de Ivo Rosa pela Assembleia da República. Passe o atentado à separação de poderes, a ideia que um juiz, por não ter decidido de acordo com a vontade de uma maioria, tem de ser afastado, revela como é frágil o Estado de Direito. Isso não nos proíbe de ter uma convicção pessoal sobre as acusações feitas a Sócrates, até de condená-lo por isso, o que não nos permite é exigir que a justiça decida por sondagem popular.
O narciso: José Sócrates

Há dois momentos que definem o tipo de homem que é José Sócrates. O primeiro obriga-nos a recuar dez anos. Naquela noite de Abril, antes de afundar o país num pedido de resgate que tantas vezes negou, Sócrates preparava-se para a declaração mais difícil da carreira de qualquer primeiro-ministro. Acabou-se o dinheiro! Até que, ali, à beira do precipício financeiro no qual se preparava para lançar milhões de portugueses e perante a capitulação do seu governo, Sócrates perguntava – “Como é que fico melhor a olhar?”. Com Portugal de joelhos, o engenheiro perdia-se na vaidade que sempre ostentou. Primeiro Sócrates, depois o país. Como viríamos a saber mais tarde, essa ordem de interesses teria uma dimensão maior do que a ficção. O segundo momento tem poucos dias. À saída do tribunal que o indiciou por corrupção e falsificação de documentos, o ex-primeiro-ministro descansava, triunfante, à mesa de uma esplanada, enquanto degustava uma imperial. Após estágio de 10 meses em calabouço prisional, este é o Sócrates vintage. À vaidade entranhada, acrescem agora notas de egocentrismo exacerbado e traços preocupantes de falta de noção. A vitória proclamada apesar da corrupção, a convivência casual com a acusação de ter mercadejado o cargo de primeiro-ministro, o livro que estava preparado para sair logo após a decisão. Se a justiça não o pune, que a nossa memória não o perdoe.