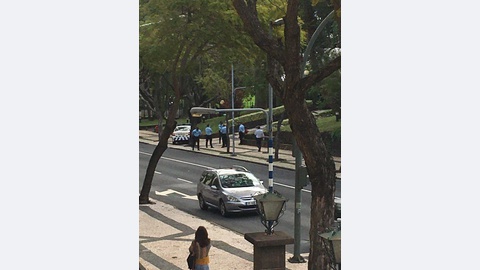O pior dos países continua no melhor dos mundos
Sucede que certas coisas só se controlam depois de nos preocuparmos com elas. É o caso da inquietante fragilidade do país, que a pandemia veio descobrir e agravar
O teletrabalho é um sossego que todos os dias se agradece: agradece-se por existir, e agradece-se à sorte de o fazer à distância. Aqui, no escritório de casa, reina querendo um confortável alheamento, interrompido apenas por um sinal pequeno, mas persistente destes dias: as sirenes das ambulâncias a caminho do Hospital Santa Maria.
Há as notícias, claro, mas essas consomem-se numa espécie de animação suspensa, entre o dever cívico de estar informado e o dever íntimo de estar preservado. É até possível viver assim, no ruminar do sustento, cuidando de si, assistindo à rua e à cidade como a um país estrangeiro. É de resto o que recomendam os psicólogos, na senda do estimável adágio de não nos preocuparmos com o que não podemos controlar.
Sucede que certas coisas só se controlam depois de nos preocuparmos com elas. É o caso da inquietante fragilidade do país, que a pandemia veio descobrir e agravar. Os jornais, sucedendo-se, dão na verdade uma só notícia: o remendo descoseu-se. Portugal vai nu.
Reveja-se a matéria dada. Na Educação, fecham-se as escolas e proíbe-se o ensino on-line, para assegurar que os alunos permanecem igualmente burros. O frio nas casas vem de repente nas notícias, como cautela para o arrepio pandémico da pobreza. Na Saúde corre-se atrás do prejuízo, exportando doentes e importando profissionais de saúde ainda antes de esgotar a capacidade nacional. A televisão converte-se num drama hospitalar, com protagonistas estranhos e irregulares. Esta semana – creio que não alucinei – foi Basílio Horta, Presidente da Câmara, que comentou a falta de oxigénio no Amadora-Sintra, o que é um pouco como perguntar ao Mayor de Cape Canaveral como vai o lançamento de foguetões. A CNN faz uma reportagem sobre o pior país da pandemia. O telejornal passa “perfis” de médicos, sugerindo pouco discretamente que o SNS não se compraz com o simples profissionalismo, e só se aguenta a custo de uma devoção quase monástica da sua gente
Na vacina, de que tudo crucialmente dependia, dificilmente seria pior. Em jeito de aviso, um dos primeiros lotes despistou-se sozinho na A2. Em Penafiel, um problema de refrigeração estragou centenas. Vacinou-se entretanto pelo menos um Presidente da Câmara, uma Diretora da Segurança Social, trabalhadores de lares, centenas de pessoas que, bem ou mal, não estavam no plano e que o Governo, entretanto infectadíssimo, não consegue fiscalizar. A vacinação de políticos passou do 8, em que nem o Chefe de Estado e o Primeiro-Ministro se vacinaram, para o 80, em que os políticos entraram na lista por hierarquia protocolar e privilégio de classe. O despropósito é tão crasso que os deputados se dão ao gozo de recusar ou aceitar, individualmente ou em grupo, a vacina consignada. De soslaio, aprovaram a lei da eutanásia, assegurando, com cinismo qualificado, que em Portugal também se morre porque se quer.
Não há, por estes desaires e infelicidades, qualquer responsável. Na grande máquina do Estado, não houve um dirigente – um! – que, preparado para uma legislatura a carimbar papéis, não se achasse também habilitado para o resoluto comando de uma pandemia. Ninguém deu o lugar, ninguém se demite, ninguém é demitido. Nem o senhor das compotas, nem depois “daquela” comunicação de Natal, que misteriosamente se arquivou na “comédia” em vez de no “crime”. A meio de uma guerra não se trocam generais, diz o Primeiro-Ministro, ignorando o imperativo prático de pelo menos trocar os que caem em combate. Entretanto, em mais uma prova de que vivemos numa democracia avançada, Graça Freitas desapareceu. Na rua, nos jornais, pouco protesto ou lamento. Pelo contrário, a tese dominante é a do azar, uma admiração mais ou menos velada pela abnegação, esforço, e zelo patriótico dos governantes, avaliados pela bitola cândida das intenções.

Este estado de latência, laxismo e indiferença só se justifica num povo que, no dizer de José Gil, tem medo de existir, e agora se vê aliviado do pouco que restava desse fardo. A apatia é um seguro contra os sinistros do destino e do risco, uma espécie de vingança antecipada contra o desprezo do poder. E vinga, precisamente, por contaminar toda a vida. A apatia não exige nem planeia, deixa andar. Com ela, a urgência ganha sempre ao método, e o deslumbramento ganha sempre ao razoável. Assim apático, empurrado pelo seu atraso e a sua miséria, Portugal é de ponta a ponta um improviso. Com o desperdício, a extravagância e os esbanjamentos de todos os improvisos. Para se preparar para a Covid-19, o país precisava que o tempo parasse, ou antes já fosse melhor do que era. O caos que a pandemia provocou não é uma comédia de erros, mas a tragédia previsível da nossa mediania e impreparação, acrescida dos juros compostos da incúria.
É sempre possível abstrair-se disso. Em casa, porém, as sirenes continuam. É um alerta perpétuo, permanente, peripatético. Um cortejo de almas num navio fantasma, em trânsito entre o país com que nos iludimos e o país real. Lembro-me do hábito antigo de fazer o sinal da cruz de passagem num acidente. Lembro-me dos velhos a se benzerem quando passava a ambulância, num atalho terno para o mesmo princípio. Em casa, já ninguém se benze. Não é só um acidente. São as nossas escolhas.
E não têm de ser assim.