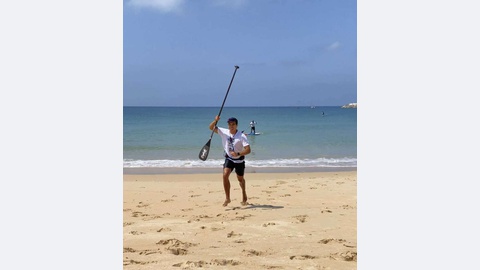A última conversa
Fui uma adolescente comum, com aquele padrão de humor que, em poucos instantes, transforma uma manhã clara num dia de tempestade
Fez mais um ano, passou a correr, mas sei que, numa boa parte desse tempo, pensei na minha mãe e em como continuo a considerar injusta aquela morte numa cama do hospital, a poucos dias de receber alta. E lembrei-me todas as vezes que me faltou a inteligência, o conselho, o sorriso e o espírito complicado, caótico e contraditório que atravessou a minha infância.
A minha mãe era tudo isso. A mão que media a febre, que afastava o cabelo da cara e a mesma mão que metia ordem. E foi a pessoa com quem mais gritei em discussões violentas que, de forma invariável, terminavam comigo a bater a porta do meu quarto e chorar em cima da cama.

Fui uma adolescente comum, com aquele padrão de humor que, em poucos instantes, transforma uma manhã clara num dia de tempestade, e há provas disso na casa do Laranjal. A porta do meu antigo quarto ainda fecha mal por causa de todas as vezes que me impediu de ir ao cinema.
Acho que esperava outra filha, mais como ela, simpática e faladora e saiu-lhe uma menina de mau feitio, daquelas que respondem demais ou ficam caladas a um canto, cheias de vergonha. E queria que eu gostasse dos vestidos, das saias e das meias em renda branca de algodão. Nem o cabelo lhe fazia a vontade e não aguentava os ganchos que trazia da Casa Gonzalez.
Não fomos simples, a minha mãe e eu, mas isso talvez seja assim por aí, com todas as mães e filhas, com esses laços tecidos em contradições, entre o carinho de ser o único porto seguro e o mais austero dos juízes, de cuidar e educar, de amar e dizer muitas que não.
A minha mãe disse-me muitas vezes que não. Que não podia, que não devia e, sobretudo, que não podia, nem devia e não tinha dinheiro. E foi mais vezes exigente do que os momentos que condescendeu. Eu devia ser melhor, todos os dias em todas as coisas que fizesse, fosse a cevada que lhe servia ao lanche, fosse as notas da escola.
E não era fácil, nada era simples ou fácil com a minha mãe, mas foi bom crescer com ela, agarrada à saia de uma mulher desempoeirada, que ouvia notícias, discutia política e bola e cantava sem fugir do tom todas as músicas que tocavam na rádio. E era bom comer os bolos que fazia, mesmo os que não acertavam e ficavam crus.
O mais reconfortante de tudo era dar-lhe o braço no domingo à noite quando vínhamos da casa do meu avô e ouvi-la falar do futuro. “Vais tirar um curso, vamos ter uma casa de dois andares e um lago para patos e peixes vermelhos, um daqueles que há nas quintas”.
A nossa última conversa foi na cama do hospital e foi a falar do futuro, do meu. Lembro-me de que estava triste, a vida tardava em arrancar como imaginara e a minha mãe ouviu-me com paciência, endireitou-me o cabelo umas duas ou três vezes – “essa mania de andar com os olhos tapados” – e, no fim, garantiu-me que ia ter tudo, só precisava de acreditar e de dar tempo.
“O que é teu ninguém leva”, mas eu achei que era conversa de velhos, um conselho piedoso de mãe a tentar animar a filha de 24 anos. E o que dói é não ter maneira de lhe dizer que sim, tinha toda a razão.