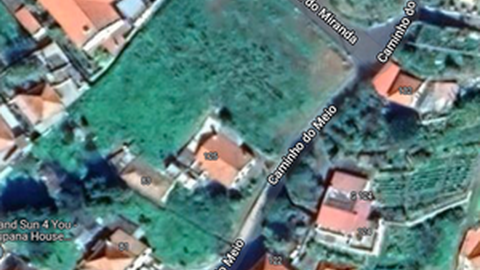No banco, no lugar do suplente
A criança que fomos nunca nos larga, mesmo que se troque os óculos por lentes de contacto e se queime calorias no ginásio. Falo de mim, claro, que comecei por ser a ‘gorda’ das botas ortopédicas para entrar, no fim da adolescência, na categoria de caixa de óculos que lia muito. E isso prometia um futuro atribulado, mas a minha mãe, talvez para me sossegar, tinha o hábito de repetir que ninguém ficava por casar, nem os tolos e muito menos os feios.
A intenção era boa, embora fosse perturbadora e me fizesse sentir como nas aulas de educação física, quando se escolhiam as equipas de andebol. Primeiro iam os bons, a seguir os mais populares, depois as miúdas giras e, no fim, sobrava eu e os outros esquisitos, que, na hora de jogar, só atrapalhavam. Ninguém me queria em campo, nem eu que, a fim de evitar a humilhação, preferia ficar de suplente.
E do banco, enquanto os outros corriam e gritavam “passa a bola”, eu podia apreciar o jogo, ver o talento e aquela espécie de feitiço, bruxedo ou arte mágica das raparigas bonitas, a quem os rapazes perdoavam tudo. A falha no passe, os gritinhos, a corrida desajeitada e até lhes desculpavam quando, por inabilidade, os faziam perder o jogo. No fim, riam como tolos, inebriados por estar mais perto delas.
Quando ganhavam era bom; as derrotas abriam caminho àquelas zangas de fingir. Elas faziam-se ofendidas, diziam que eles eram estúpidos e maus. E eles provocavam, irritavam e tinham propósito para lhes riscar as folhas dos cadernos e pregar partidas para manter aquela maneira torta de gostar, dizendo que não. Os ódios de estimação quase sempre escondiam dois adolescentes inaptos e apaixonados, só não via quem não queria ou quem não estava no banco, no lugar do suplente.

Era como que um ensaio, um treino. Um dia todas aquelas estratégias de sedução seriam usadas e eu não tinha dúvidas de que viveriam belas histórias. O amor, nos anos 80, parecia mais adequado a um certo tipo de pessoas no qual não me incluía. As ideias de que todos são bonitos, todos os corpos e de todos os tamanhos, os morenos e os loiros, os que usam óculos, aparelhos nos dentes ou sapatos para endireitar os pés não existiam. Havia padrões, quem encaixava tinha sorte; quem estava fora sofria e treinava a resistência à exclusão.
E foi o que fiz na esperança de um dia, no decurso na vida, encontrar as condições e as circunstâncias que me fizessem entrar no padrão. A minha mãe dizia que o amor não era negado nem sequer aos tolos ou aos feios, talvez fosse verdade, mas dava a impressão que os bonitos estavam noutro patamar, num nível em que tudo seria mais simples, mais fácil. O sucesso, o amor, o melhor era deles por direito; os outros ficavam com as sobras.
Por isso, quando vejo na rua, miúdas que não estão no padrão de mão dada com um rapaz bonito ou ao contrário lembro-me de mim aos 14, 15 anos, naqueles anos 80 de visão estreita das coisas. O politicamente correcto contaminou todo o discurso, há uma caça, às vezes tresloucada, ao preconceito, mas talvez fosse bom olhar para as miúdas que não se sentem diminuídas por usar óculos ou pesar mais 10 quilos e penso como isso me condicionou e moldou. De uma certa maneira continuo no banco, no lugar do suplente, a ver o jogo.