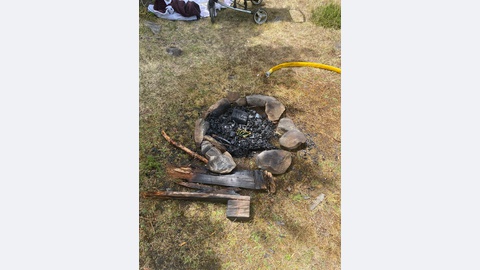Pax per bellum
Apesar de tudo, o caso do Afeganistão e dos Talibãs não é o único exemplificativo de que por vezes a guerra é vital
Nas passadas semanas temos assistido ao avanço incessante talibã sobre o Afeganistão. Estranhamente, alguns “românticos” referem a “coincidência” de que este evento começa após a retirada das tropas americanas da região como se esta não se tratasse de uma relação causa-efeito perfeitamente previsível. Este assunto traz à ribalta novamente um dos debates mais constrangedores da nossa existência enquanto sociedade civilizada: a necessidade de as nações terem capacidade de fazer guerra.
Infelizmente, o potencial bélico é essencial para a gestão de uma nação. Muitos não considerarão a guerra como ferramenta diplomática, mas a verdade é que foram várias as vezes que, na nossa história, tanto a ameaça como o uso de força permitiram a paz. Em nenhuma destas vezes, com efeito, se mostra tão claro este facto como agora no Afeganistão. O assunto gera polémica tendo em conta que a própria força de defesa, os americamos, é também considerada invasora. Contudo, aquilo que se observa é igualmente evidente: perante a retirada das tropas dos Estados Unidos, que conseguiam combater a ameaça talibã, o respetivo grupo de radicais começou a conquistar terreno e a assassinar civis a um ritmo devastador. Entretanto, António Guterres, no típico papel de Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, abana a cabeça enquanto pede aos terroristas para pararem com a violação de leis humanitárias internacionais. Como não será novidade para a maioria dos leitores, as advertências/reprimendas originárias da ONU costumam produzir perto de nenhuns resultados, portanto será isso que se esperará na mudança da atitude talibã.
Apesar de tudo, o caso do Afeganistão e dos Talibãs não é o único exemplificativo de que por vezes a guerra é vital. A sudoeste deste país, na Somália, a pirataria só começou a demonstrar tendências verdadeiramente decrescentes após a implementação de programas de combate marítimo liderados tanto por países do Ocidente como por países do Leste que, ao contrário de esforços anteriores que não produziram resultados suficientes, não se focaram no restabelecimento da ordem no país africano mas na “guerra” no mar. Novamente, foram as armas que permitiram reduzir um problema de graves contornos e protagonizado por indivíduos que, embora não possam ser equiparados a terroristas (por não pretenderem substituir o governo regente), causaram impactos de similar gravidade internacional.
Seja de notar que, apesar dos dois casos apresentados dizerem respeito a instâncias de Estado contra grupos de criminosos, a da ameaça de guerra também se demonstra importante para o controlo de conflitos interestaduais. O mais óbvio destes casos é o da Guerra Fria e da teoria da deterrência nuclear. Na sua versão mais simplificada, a teoria estipula que um estado A não atacará um estado B com armamento nuclear se esse estado B tiver a capacidade de retaliar em igual medida, fazendo com que qualquer ataque de A signifique a sua própria aniquilação. Desta forma, através da coerção bélica, ambos garantem a sua coexistência. Tal como qualquer outra, esta teoria é alvo de críticas, mas a verdade é que os seus resultados estiveram à vista: nem os EUA nem a URSS recorreram à utilização de armamento nuclear durante a Guerra Fria, não obstante ambos os lados o produzirem.
Não se pretende com este artigo glorificar a guerra. Pretende-se sim chamar a atenção de que a sua ocorrência não deriva apenas de objetivos obscuros daqueles que lucram com ela. Como diz o pe. Fernando Oliveira, autor do livro Arte da Guerra do Mar (1555), a única guerra legítima é aquela que é feita defensivamente. Essa é a sua necessidade no Afeganistão, porque não será a diplomacia que irá impedir o mal de se perpetuar. Nesse sentido, é minha opinião que, maioritariamente, todos somos (ou queremos ser) pacifistas, mas ao mesmo tempo sabemos que a paz não surge do nada e que por vezes primeiro tem que haver guerra para que se devolva a paz.