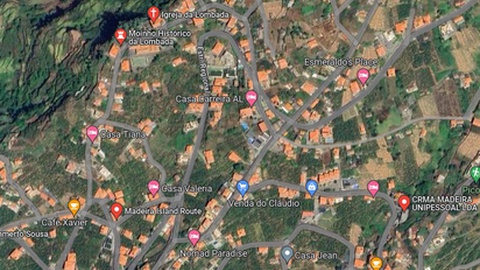As coisas sem importância
Um escritório dos antigos, daqueles com divisórias em vidro, alumínio e placas de contraplacado castanhas, onde se fumava muito e era impossível ignorar quando o telefone tocava
“Dactilo... o quê? Isso deve ser uma coisa antiga”. O carro desliza pela via-rápida e pela manhã de sol e céu azul, enquanto eu tento explicar o que me ensinaram nas aulas de dactilografia, aquelas quatro horas por semana numa sala pequena do velho casarão da escola dos Ilhéus, com secretárias e máquinas de escrever quase como se fosse um escritório.
Um escritório dos antigos, daqueles com divisórias em vidro, alumínio e placas de contraplacado castanhas, onde se fumava muito e era impossível ignorar quando o telefone tocava. E, deste cenário, nós tínhamos as máquinas, o papel em branco e uma professora que nos ensinava a escrever sem olhar para o teclado e ao ritmo da música que vinha de um leitor de cassetes.
E todos os anos, pelo menos durante um período lectivo, um grupo de adolescentes com borbulhas na testa corria porta fora ao toque de saída e para longe daquela tortura às mãos e aos dedos. Os dedos entravam pelos espaços entre as teclas de metal e, pelo menos eu, passava aquelas quatro horas por semana em sofrimento, a martelar a máquina e a estragar o papel.
Lembro-me de olhar para a frente e para o lado e de cobiçar a elegância e agilidade dos outros, como se tivessem saído de um escritório a sério. Eu, pelo contrário, transpirava, entortava o papel e pensava nesse mistério cósmico que me tirara das mãos qualquer habilidade ou talento. Não sabia bordar, coser e era por simpatia que me davam positiva a trabalhos oficinais.

Não sei que ideia ou imagem a professora guardou de mim, aquela miúda gorducha que se atrapalhava e estragava folhas de papel branco. Não terá sido a melhor e certamente não faria parte do grupo que recomendaria para trabalhar num escritório. O que era um emprego bom e elegante. As mães diziam com orgulho que as filhas trabalhavam num escritório.
Não era tão como ter um curso superior ou ser bancário, mas dava estatuto. E quem sabia escrever à máquina tinha vantagem que, ali a meio dos anos 80, enquanto eu maltratava as teclas de metal nas aulas de dactilografia não se imaginava o que estava a chegar. O futuro parecia aquilo e eu sentia-me diminuída e pouco preparada.
O que ia ser de mim nesse futuro se me faltava o talento para quase tudo. O meu irmão era ágil e, na minha cabeça de adolescente, as pessoas assim eram como os gatos, capazes de encontrar solução por maior que fosse o aperto. E eu não era isso, nem elegante, nem dotada, nada. Só a Marta de pasta amarela ao ombro, a viver num corpo esquisito e que todos os dias apanhava o autocarro da uma e meia para casa.
Não demorou muito até o futuro se transferir para os computadores. As pessoas inscreveram-se em cursos e eu também, ainda o sistema era MS/DOS. O que, naquela altura, me pareceu chinês e do qual retenho as guerras para mexer no computador. Só havia um e nós, a Raquel e eu, éramos duas e não percebíamos como é que o futuro podia ser tão complicado.
E o tempo, essa força que mandou para a história das coisas sem importância a dactilografia e a necessidade de aprender o programa MS/DOS, não teve o condão de me sossegar. Eu, ou pelo menos a parte de mim que ainda é aquela adolescente preocupada, continuo a temer pelo futuro e contra a sensação de não estar preparada para o encarar.