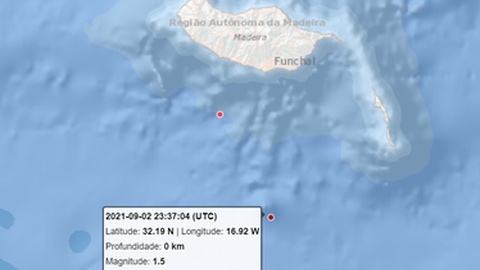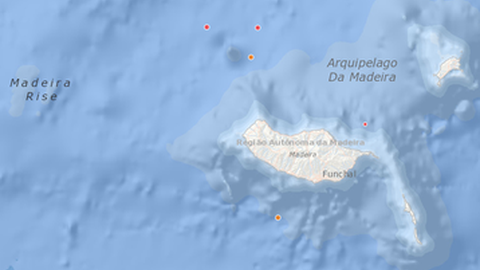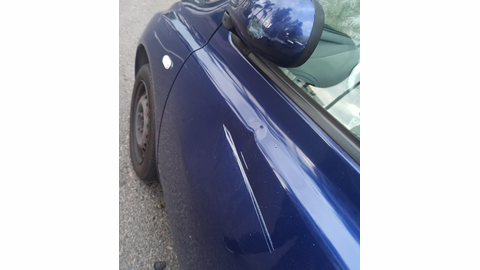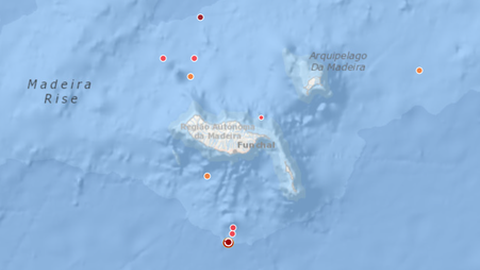Seria possível?
Todas as tardes, depois de fazer o lanche e lavar a loiça, eu sentava-me no varandim do terraço e ficava a ver passar os autocarros que, nesse tempo, subiam da cidade cheios de gente que descia na paragem e se metia beco acima. Os ´horários’ descarregavam homens com a pasta do almoço, as mulheres das casas de bordados e as que trabalhavam no armazém da banana, mais os que atendiam nas lojas e os que eram empregados de escritório.
Em tempo de aulas, o autocarro carregava de miudagem e de estudantes de liceu, nas férias grandes devolvia às zonas altas a mesma malta, que chegava da praia com a toalha enrolada debaixo do braço, mas os estudos não eram para todos e, por isso, a canalha entretinha-se nas poças da ribeira e fazia a piscina nos tanques de rega. Assim mesmo como estavam, com lodo e rãs que se escondiam na erva molhada.
Nos dias de muito calor, quando se formava uma faixa amarela por cima do mar, fazia-se grande algazarra, com mergulhos e risadas e rapazes castanhos da terra e do sol a gritar. A minha mãe não nos dava tantas liberdades e, pelos meus 15 anos, aquilo parecia-me esquisito e o Laranjal encolhia, era pequeno para todos os sonhos que me enchiam a cabeça enquanto via parar autocarros.
A vida lá por cima estava a mudar, não era só de mim. Cada vez havia menos interesse no grupo de jovens, nas convocatórias do padre Rebola para a oração e a igreja começou a ficar mais vazia, parava-se menos no adro depois da missa. Os interesses derivavam para longe dali e a dona Deolinda tinha cada vez menos aprendizes. Eu terei sido das últimas e não aprendi a coser à máquina. Hoje dava-me jeito, mas naquele Verão de 1986 estava mais interessada em ouvir as conversas das clientes.
E tinha medo a meter as mãos naquele animal mecânico com agulhas e pedal. A minha mãe tinha uma Singer igualzinha, eu via-me já vestida à moda com a roupa feita nos moldes da Burda. Não fosse a máquina, quem sabe, mas a verdade é que somos o que somos e muito antes de tomar consciência disso. Eu gostava muito da Dona Deolinda, do atelier, daquele mundo que já era passado, perdia-me nas histórias das senhoras, sempre preocupadas com os noivos das filhas, com o futuro delas.
O futuro também me começava a rondar, o que seria de mim mais à frente, depois do fim do liceu. Nunca seria modista, não tinha mãos para isso, nem para escrever à máquina. A professora dos Ilhéus deixara claro: sem dactilografia não se arranjava um emprego num escritório, assim como secretária. E também estava fora de questão trabalhar numa loja, que me faltava habilidade para vender, para fazer contas depressa, dobrar roupa sem vincos ou fazer embrulhos bonitos.
A minha mãe dizia que sem Matemática o futuro ficava ainda mais complicado, o que não me impediu de ir para letras. A culpa foi dos livros. O meu irmão, que levava três anos de avanço, comprou-os para ler no 11º ano e eu li-os de uma vez nas férias grandes. Foi quando decidi que me queria livrar das equações e das forças da Física, seria feliz com livros, com histórias. O resto decidiria mais à frente.
E lembro-me que foi, naquelas tardes com as pernas dependuradas no varandim, naqueles momentos sem propósito, que surgiram as ideias de fazer vida como jornalista. Seria possível para mim, uma miúda do Laranjal, de uma curva apertada no fim do mundo, filha de um pedreiro e de uma senhora que bordava?