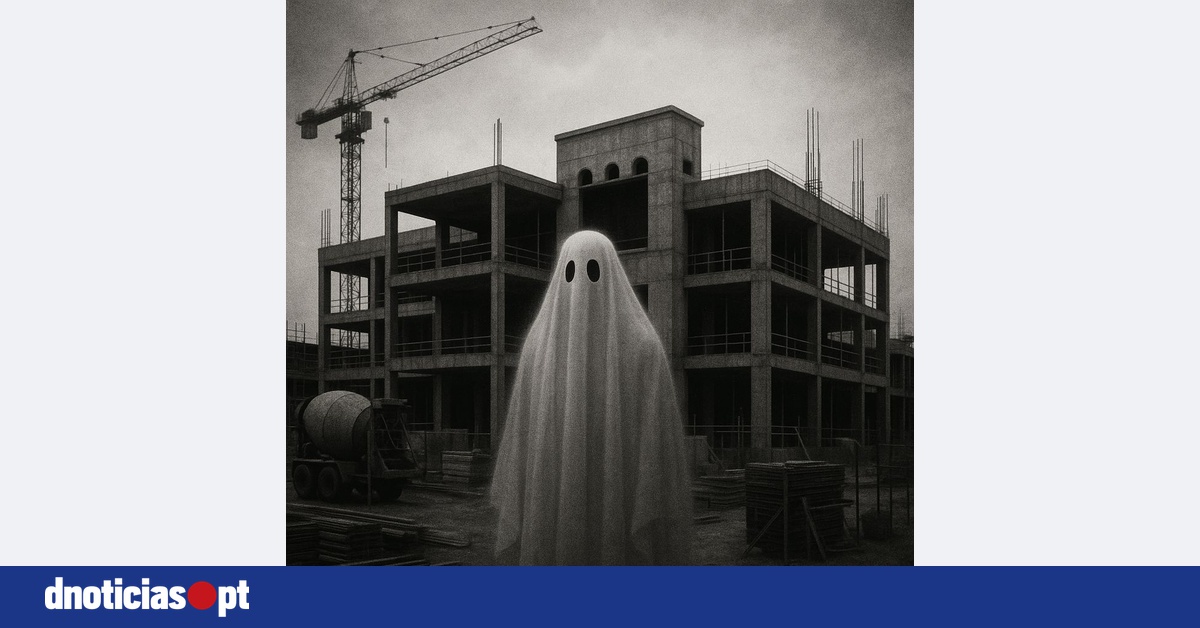O Hospital, ou o Memorial do Cinismo.
1. O Hospital, ou o Memorial do Cinismo: quando o Estado se ajoelha.
O hospital, esse que ainda não chegou a ser chão, parede, enfermaria ou urgência, esse que habita há anos os discursos dos governantes como um fantasma educado, sempre presente, sempre invisível, não é um edifício: é um sintoma. Um sintoma de uma doença antiga, crónica, institucional. Uma doença que se manifesta em fases, como o próprio hospital. Fase um: a propaganda. Fase dois: a adjudicação. Fase três: o sobrecusto. Fase quatro: a amnésia colectiva. A fase clínica da vergonha.
O que está a ser construído, entre betoneiras e justificações, não é um hospital. É um monumento à promiscuidade entre o poder político e os interesses privados. Uma estrutura em betão armado e silêncio cúmplice, erguida por mãos sujas de contratos opacos e de entrevistas à imprensa em tom monocórdico. Não há projecto de saúde. Há um projecto de saque.
E a prova está em cada palavra do discurso oficial. Fala-se de “equipamento caro”, como se a culpa fosse dos aparelhos, e não de quem os compra. Fala-se de “escassez de mão-de-obra”, como se não fosse responsabilidade de quem planeia prever a execução de uma obra com base em realidade, e não em wishful thinking orçamental. Fala-se de “dificuldades logísticas”, de “revisões técnicas”, de “necessidades acrescidas”, como se um hospital fosse uma experiência sensorial e não um equipamento essencial para salvar vidas.
E no meio de tudo isto, o povo. O povo que ouve, que espera, que vota, que adoece. Os que vão morrendo aos poucos enquanto esperam consulta. Os que enterram os pais sem diagnóstico. Os que pedem para serem atendidos em Lisboa como quem pede um milagre. Esses são o rodapé da história. A nota de rodapé dos relatórios. O pretexto humanitário de uma operação puramente económica.
Do outro lado, do lado onde se assina, onde se decide, onde se factura, está o Dono Disto Tudo. Não é eleito. Não é fiscalizado. Não responde perante ninguém. Mas manda. Manda mais do que qualquer secretário regional, mais do que qualquer director de obra, mais do que qualquer presidente de Governo. Manda porque é dele o betão. Manda porque é dele a maquinaria que constrói e destrói. Manda porque é ele que tem o poder de parar tudo com um telefonema, e de recomeçar, mais caro, com outro.
E o Governo? O Governo ajoelha.
Ajoelha de forma elegante, com gravata e dossiês, com palavras medidas e promessas ocas. Ajoelha e agradece. E explica, sempre com ar sofrido, que “não foi possível”, que “as circunstâncias mudaram”, que “estamos a fazer tudo”. Mas o que está a fazer é isso mesmo: ajoelhar. E fingir que governa, quando governa apenas o tempo suficiente para que o Dono Disto Tudo possa fazer o que quiser.

A verdade é que ninguém quer o hospital terminado. Porque terminado significa fim do ciclo da adjudicação, fim das revisões orçamentais, fim das fases, fim da desculpa para mais um concurso, mais um ajuste directo, mais uma “reavaliação técnica”. Terminar o hospital é acabar com a galinha dos ovos de ouro. E quem é que mata uma galinha que põe ovos de ouro? Só um tolo. Ou um homem honesto.
Os prazos não se cumprem porque não se pretende que se cumpram. As derrapagens não se evitam porque são desejadas. O atraso é a própria estratégia. E os sobrecustos são a margem de lucro institucionalizada. Pedro Rodrigues, o secretário de ocasião, é apenas o porta-voz desta farsa, um homem visivelmente exausto de ter de fingir que ainda acredita no que diz. Repete fórmulas como um funcionário de balcão: “estamos a ultimar”, “vamos lançar brevemente”, “tudo está a correr dentro do possível”. E dentro do possível cabe tudo. Menos a verdade.
E a verdade é esta: não há hospital. Há um processo. Um processo rentável, prolongado, intencionalmente inacabado.
O hospital é o exemplo máximo da doença que nos corrói: a transformação da necessidade pública em oportunidade privada. O colapso do bem comum em favor do bem de alguns. A utilização cínica da saúde como fachada moral de um esquema económico.
A pergunta não é quando ficará pronto. É se alguma vez foi para ficar. Ou se desde o início foi apenas uma narrativa, uma novela orçamental com final sempre adiado, com actores rotativos e um enredo previsível: primeiro o entusiasmo, depois o adiamento, depois o escândalo abafado, depois o silêncio.
E quando, se alguma vez, cortarem a fita, hão-de fazê-lo com música, com discursos, com uma pedra a dizer “Aqui nasceu o novo hospital da Madeira”, como se a história tivesse sido de sucesso. Mas o que ali estará, se ali estiver alguma coisa, será um mausoléu. Um túmulo de tudo o que se perdeu: o dinheiro, a saúde, a esperança, a vergonha.
E os rostos que aparecerem na fotografia a sorrir deviam ser os mesmos que apareceriam num tribunal, não numa inauguração.
Mas não. Aqui, a impunidade é tradição. E o hospital é o altar onde ela se celebra. Reza-se por ele, todos os dias, nos corredores dos centros de saúde, nas urgências cheias, nos lares. Reza-se. Mas não se cura. Porque a doença está no sistema. E não há hospital que cure uma terra que já desistiu de se tratar.
2. A mentira mansa dos salários, o IRS como ilusão, e a terra onde ninguém se levanta da mesa.
[Directors Cut com ossos de cá e sal grosso na língua]
A mim, o que me mói, mais do que o preço do atum ou da banana, mais do que a renda da casa que sobe como balão de menino nas festas do Carmo, mais até do que a luz que acendemos com medo de ver a conta depois, o que me mói, digo eu, é esta maneira de fazerem de conta que está tudo bem, como quem tapa o lume com cinza a ver se o fogo morre, como quem assobia pro lado enquanto o barco mete água, como se não fosse a gente a afogar-se primeiro. Dão-nos palavras com jeito, dessas bem ditas, palavras de gravata, palavras que cheiram a gabinete, e esperam que a gente fique calado, que diga “sim senhor doutor”, que bata palmas.
Vieram dizer que em 2024 ganhámos mais. Que o rendimento cresceu, que houve alívio, que o povo devia estar grato. Fizeram disso um samba de números, como se os tostões dançassem. Mas não foi nada disso. Foi só um truque, um adiantamento do IRS, como quem nos dá um gole de água salgada e diz que é sopa. A gente pagou o mesmo, só que mais tarde. Foi como venderem-nos um saco de vento embrulhado em papel brilhante.
E na Madeira, onde a vida custa como se o continente fosse na lua, onde os ordenados são de antigamente mas os preços são de amanhã, esse truque é pior. Aqui, o povo trabalha de sol a sol, apanha a viração nos ossos, e quando chega ao fim do mês já está a dever metade. A casa come-lhe o ordenado, o supermercado leva o resto. E depois ainda aparece o Governo com um sorrisinho de quem fez boa acção, a dizer que nos deu um jeitinho.
A verdade é que o dinheiro não sobe. Estanca. Como uma mina seca. Como uma levada parada. E mesmo quando pinga mais um bocadinho, vem logo a inflação e bebe tudo. A gasolina sobe. O pão sobe. O frango sobe. Os ovos sobem. E o salário fica quieto como gato ao sol. Os ganhos, se há algum, são só no papel, a vida, essa, continua a doer.
E a gente vai calando. Vai engolindo. Vai dizendo que é assim mesmo. Vai agradecendo quando nos dão o que já era nosso. O Estado adianta um bocado de IRS, como se fosse dele, e faz disso manchete. Os jornais escrevem como se fosse milagre. Mas a gente, cá dentro, sabe. Sabe que é só mais uma volta ao mesmo. Sabe que é só para fazer figura. Sabe que é só truque de ilusionismo.
O pior é que estamos a habituar-nos. A viver à rasquinha. A contar trocos. A deixar de sonhar. Os moços novos já nem querem casar, quanto mais fazer casa. Porque viver aqui custa. Porque os ordenados são de rir. E quando se compara com os preços da renda, da saúde, da comida, o riso vira raiva. Vira tristeza. Vira cansaço.
Cansaço de ver sempre os mesmos na frente. Sempre os mesmos a decidir. Sempre os mesmos a dizer-nos que a culpa não é deles. Que é da guerra, da pandemia, do BCE, do diabo que os carregue. Nunca são eles. Nunca o Governo, nunca o sistema, nunca a incompetência.
O rendimento aumentou, dizem. Mas aumentou para quem? Para o funcionário que mora em Santa Cruz e gasta metade do ordenado em gasolina? Para a senhora da limpeza que apanha três carreiras para chegar ao trabalho? Para o rapaz do café que ganha o salário mínimo e ainda tem de sorrir a turistas que gastam mais numa noite do que ele num mês inteiro?
Não. O que aumentou foi a aldrabice. A habilidade. O teatro. A maneira de enganar com classe. Com ternura quase. Com aquela voz mansa que os senhores usam na televisão quando dizem “estamos a fazer tudo o que podemos”. E a gente acredita, porque quer acreditar. Porque já não sabe como é viver de outra maneira. Porque ser pobre na Madeira é como ter um dente estragado: dói, mas acostuma-se.
E o mais triste, talvez, é que a gente já nem se zanga. Já nem protesta. Já nem berra. Fomos ficando mansos. Fomos ficando calados. Fomos ficando pequeninos. E agora somos isto: um povo que aceita ser enganado, desde que o façam com jeitinho.
Na Madeira, o verdadeiro rendimento das famílias é a resignação. O salário é o silêncio. O bónus é sobreviver.
E o IRS? Esse é só a palmada nas costas antes de nos tirarem a carteira outra vez.