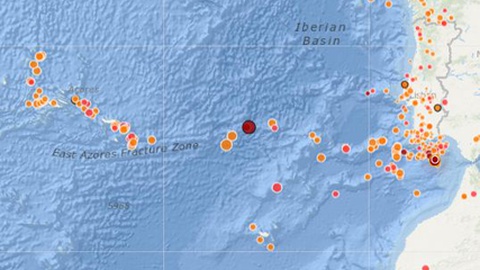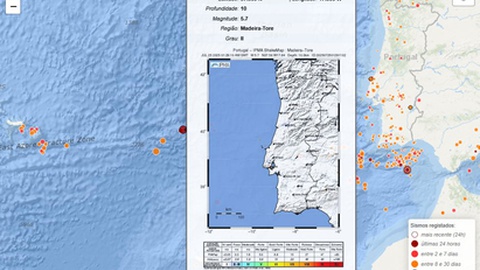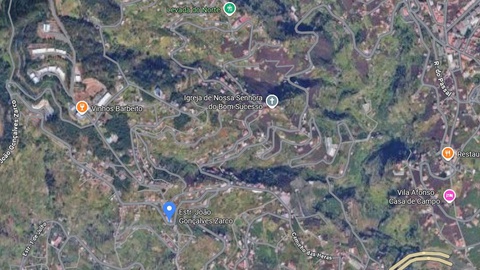Céu parcialmente nublado
Eu corri aquela nesga de terra como se fosse o meu quintal ou a fazenda do meu avô ou as casas das minhas tias
As nuvens cobriam depressa o azul do céu e, naqueles primeiros dias de férias, ir ao Lido a contar com o sol era quase uma espécie de fé, uma esperança, mas nós íamos. O ‘nós’ abrangia os adolescentes da sessão da tarde no Cine Casino, da coca-cola nas esplanadas da marina, das matinés na discoteca e dos dias inteiros na praia. Nem todos seguiam a lista e quase sempre por motivos de força maior como não ter dinheiro ou falta de autorização para ir dançar música pop no escuro da discoteca às quatro da tarde. Foi o meu caso.
O resto fiz tudo e, por isso, ainda antes de se saber se o dia seria de sol ou nublado e tristonho, descia os degraus da entrada, fechava o portão com estrondo e corria para a paragem não fosse a minha mãe encontrar um ‘senão’ qualquer que me fizesse ficar em casa. E os dias da semana eram nossos, dos adolescentes; as famílias, as pessoas que trabalhavam ficavam com os sábados e os domingos, quando não cabia nem mais uma toalha junto à piscina.
O nosso reino era outro e começava cedo, ainda a piscina estava a encher e só havia o mar para mergulhar. Eu tentei aprender, mas os meus mergulhos nunca passaram de saltar de pés e sentir o estômago a chegar à boca. E falhei todas as tentativas de entrar de cabeça, nunca fui além de umas “chapas” ruidosas na água, que também não eram boas para a barriga. O que não atrapalhou as minhas férias grandes e, se guardei más memórias da adolescência, nenhuma está ligada àqueles dias na beira-mar.
Eu corri aquela nesga de terra como se fosse o meu quintal ou a fazenda do meu avô ou as casas das minhas tias. Da parte nova à velha, dos recantos entre as rochas ou tobogã, dos waffles a queimar o céu da boca às sandes de queijo aquecido pelo sol, tudo concorreu para me fazer feliz. Apesar do biquíni em segunda mão e da toalha ser antiga, da mochila vermelha e dos sapatos de corda a acusar o uso, não me lembro de sentir vergonha ou de ficar a matutar nos defeitos, no tamanho das pernas ou na dobra da cintura quando me sentava na toalha.

Se a timidez desaparecia naquelas horas, não voltava a surgir até apanharmos o autocarro para casa. A aventura incluía fazer o caminho a pé ou estender a mão a pedir boleia, como se a distância fosse grande, mas nós queríamos ter só mais uma história para contar e fazer de conta que estávamos de mochila às costas como os mais velhos, os que andavam na universidade e iam de férias pela Europa, de comboio ou à boleia. Na Estrada Monumental paravam furgonetas e rapazes que achavam graça e tinham esperança de trocar números de telefone.
A história acabava na Avenida do Mar e nunca havia telefone. Não era assim tão raro não ter telefone em casa e, por isso, era correr para a paragem e esperar pelo 12 sem o risco de receber um telefonema em casa. A complicação que seria! Não sei como é agora, com números e redes sociais, mas nós tínhamos de gerir bem a quem dar o telefone de casa e combinar quem podia e quem não podia ligar, a que horas. A boleia não valia o esforço e eu queria continuar a ser a Lina Marta destemida que o Lido me fazia ser e sentir.
Mesmo que a timidez voltasse, mesmo que, no fim, a viagem do autocarro me levasse a casa, ao Laranjal, onde as ameixeiras estavam carregadas e a água da levada passava atrás da casa para regar a fazenda, a nossa e a dos vizinhos. Ou que a minha mãe insistisse em me fazer mordoma da festa da paróquia, com bandeira posta em casa e obrigação de sair na procissão. Nem sequer me custava tanto varrer o quintal todo aos sábados, nada disso era importante se, no fim, na segunda-feira, voltasse lá, ao mar, à piscina onde aprendi a fazer golfinhos e ser independente.