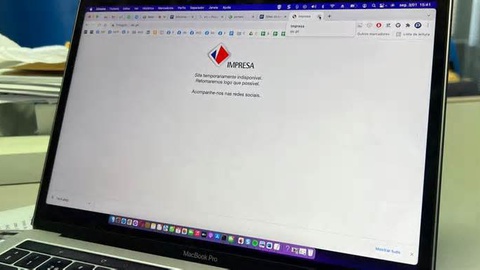Dona Celina, a rainha de todas as coisas
Era pelos anos, que calhavam no dia a seguir aos Reis, que a minha mãe decidia varrer para dentro dos armários as figuras do presépio e os enfeites da árvore de Natal.E dava-lhe a pressa, que a Festa tinha graça, mas quando chegava a Janeiro o bom era ter a casa como dantes, a sala desocupada para bordar à janela, que o ano estava a começar e era certo que a história se repetiria em Dezembro.
O ano estava a começar e era chegado o momento de voltar à vida, às angústias e preocupações e a tudo o que deixara em suspenso por causa das coisas do Natal, o que normalmente acontecia a 20 de Dezembro e retomava a 7 de Janeiro, o dia de anos e em que sentia mais velha, cansada, com mais rugas e mais grisalha. A minha mãe era uma senhora com pouco mais de metro e meio de altura, magra e muito ciente dos estragos provocados pelo correr da idade.
Não sabia precisar bem quando deixara de ser a morena de cabelo preto da fotografia que o meu pai colou no tampo da caixa de ferramentas, fora algures nos 30 e muitos, depois de nascermos, mas isso, na verdade, não interessava muito. Na minha adolescência usava uma ampola lilás no cabelo e, quando ia à cidade, espalhava Tokalon na cara para disfarçar as manchas na pele. E trocava a roupa de andar em casa por uma blusa de seda para se apresentar com dignidade na casa de bordados, onde ia todas as quartas-feiras entregar o trabalho.
Na volta para casa passava pelo supermercado para comprar coisas raras como fiambre e iogurtes de frutos silvestres e às cinco da tarde abria a janela da sala para receber as mulheres que, umas atrás das outras, subiam a entrada para receber o dinheiro. A minha mãe fazia as contas, descontava os 2% do desemprego, as linhas, fazia o troco e quase tudo de cabeça. Lembro-me de como me orgulhava daquela inteligência rápida, da capacidade de pensar, de resolver problemas. O super poder da minha mãe era esse, que tornava diferente tudo o que tocava.
E até a forma de nos amar, que era particular, como aquilo que vinha escrito no passe da escola: pessoal e intransmissível. Comigo era exigente, não se contentava com notas abaixo de 15, mas apreciava o espírito livre, o gosto por roupas pretas e por livros. E repetia-me muitas vezes para não ceder, para não desistir, achava-me capaz de ir à luta, de enfrentar qualquer desafio e seria pecado se não o fizesse. “Com a tua cabeça menos de 16 é o mesmo que ter 10”, dizia e aquilo parecia injusto, mas era só a minha mãe a lembrar-me do que entendia ser a minha força.
Se eu tinha a cabeça e a lógica, o meu irmão tinha o coração, a alma intempestiva e lembro-me de como discutiam a existência de Deus e de como ficou feliz quando o jornal publicou os primeiros poemas assinados Duarte Caires. A minha mãe guardou esse número e todos os outros quando o meu irmão se fez jornalista. Sentia-se vaidosa e mostrava as reportagens a quem quisesse ver e, às vezes, ao almoço, falavam do livro que haveria de editar. A minha mãe tinha só a quarta classe de adultos, mas não era por isso que se impedia de tentar perceber o mundo, as coisas e as pessoas.
E entendeu cedo que aquele rapazinho complicado, que subia às árvores e caçava lagartixas à mão teria de ser amado de modo diferente da menina gordinha, que lançava à porrada como o mesmo empenho com que brincava sozinha aos palácios e princesas. Esse amor fez as pessoas que somos hoje.