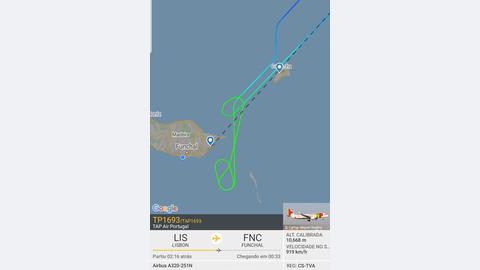Da vigilância
Novas interrogações sobre a gestão da pandemia. Voltam medos e perplexidades como nos tempos duros do confinamento, quando pensávamos que era só resistir alguns meses e talvez a normalidade pudesse regressar com alguma garantia. Ora, garantia de coisa nenhuma é tudo o que podemos ter por certo. Percebemos que os técnicos vão esgrimindo recomendações e projeções, os políticos esbracejam com normas e proibições, mas o vírus caminha na escuridão e faz da estatística a sua bandeira quotidiana. A vida volta a retrair-se com afinco e ninguém é capaz de falar do futuro. Família, sociedade, economia: como ficará tudo depois do desastre? A aldeia planetária já ultrapassou em muito a barreira do milhão de mortos, agora reduzidos a números nas tabelas que ainda vamos olhando, com um misto de curiosidade e indiferença. Quereríamos partilhar uma confiança mais ativa, mas torna-se difícil não ver a nuvem depressiva que vai cobrindo tudo com o seu negro manto. Não podemos abraçar os amigos, há meses que os netos não veem os avós, a economia definha, o desemprego traz a morte em vida, o sanitário passou a comandar a política. Tristes tempos. E vamos tentando, ainda, dar algum espaço à alegria e à esperança: é a vida que as exige.
Na Europa, no país e no mundo, os últimos números da pandemia fazem despertar receios pouco simpáticos, que convergem num ponto: pressionados pela calamidade, impulsionados pela emergência, até onde poderão ir os governos no sacrifício das liberdades, direitos e garantias? No debate da problemática sanitária, que é técnica e política, reaparecem conceitos daquela tradição de pensamento que suspeita do modo como o “poder de Estado” gere as nossas vidas. É a liberdade a lançar alertas face ao virtualmente totalitário. Agora com a poderosa alavanca das tecnologias digitais, o poder dissemina-se e torna-se, porventura, mais subtil, mas não menos opressivo nas suas manifestações. O velho “Big Brother is watching you” é uma velharia orwelliana, face à displicência fútil com que aderimos ao novo estatuto de cidadãos em permanência vigiados, ciberneticamente controlados e hiperconhecidos, não apenas pelo Estado, mas pelo poder sem rosto dos conglomerados digitais, com suas plataformas e algoritmos que pautam cada vez mais a simples vida quotidiana. E o mais caricato, neste arremedo de liberdade que é a “face humana” das tecnologias de vigilância que moldam o presente e ditam o futuro — e às quais ninguém pode escapar —, é que elas vivem da nossa adesão voluntária: quem não usa, em modo de necessidade ou em modo de lazer, um tablet ou um smartphone? Novo e poderosíssimo “big broher” regula de forma impercetível quase tudo o que fazemos e somos: ele olha pelos nossos gostos, pensamentos e emoções, e praticamente nada acontece de existencialmente relevante sem que o deus digital o acione ou manipule. Com a nossa concordância (informal ou explícita) ficamos aí registados, identificados e felizes — até ao próximo “like”, até ao “clique” seguinte, até à cidadania sem alma de uma suposta liberdade! A vigilância digital insere-nos no sistema e, por cima ou por baixo da pele, como diz Yuval Harari, o “grande irmão” conhece-nos melhor do que nós próprios. Na saúde e na doença, na vida e na morte, julgamos poder dizer alguma coisa, mas somos apenas lastro para um Estado vigilante, que segue os nossos passos dia e noite e, como “dados”, nos inventaria, classifica, hierarquiza, determina: se o caso for de grave pandemia, a engrenagem põe-se em marcha, hospedamos o “vigilante” no telemóvel e o mecanismo da “triagem social” decide — ditadura dos algoritmos! — quem pode ou merece viver, e quem terá de ser deixado para trás...