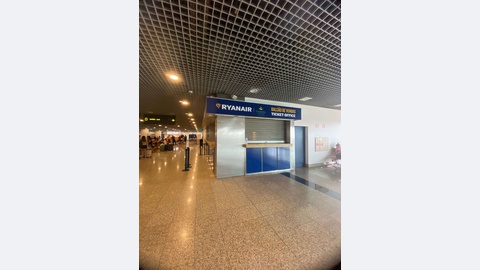Passaporte
E a viagem mostrou-me mundo, mostrou-me que se pode continuar, que se aprende a viver, até a rir, mas que o luto se faz muito mais devagar
Segurei a madeixa de cabelo atrás da orelha e tentei não piscar muito os olhos com o flash da máquina. O resultado foi um pacote de 12 fotografias tipo passe com a cara de uma jovem sisuda, a mesma que colaram no passaporte. O senhor da casa de fotografias, uma das muitas que havia na Rua Fernão Ornelas, captou a cara e o luto. A morte da minha mãe pesava nos nossos ombros quando tentei animar-me com os preparativos das primeiras férias pagas por mim. As minhas tias não aprovaram, mas o meu pai disse-me para não perder a oportunidade de ir ver mundo.
A ausência pesava tanto a ele como a mim e havia um vazio em casa de que nunca falávamos. E mesmo assim o meu pai disse que devia ir, divertir-me, tirar fotografias e trazer dos lugares uma recordação para colocar no móvel da sala. O mestre Gabriel ficaria em casa, trataria do cão, das galinhas e do jardim. “Vai descansada que, na volta, vou estar aqui para te dar um abraço”, garantiu-me, quando lhe fui dar um beijo de boa noite e mostrei o passaporte acabado de levantar. Lembro-me da vaidade, do brilho nos olhos, do pedido para que fosse fazer coisas de gente nova.
E eu fui escrever uma longa carta para Macau para meter no correio no dia seguinte. Em 1995, o ano em que se começou a democratizar o uso do telemóvel, as chamadas internacionais eram dispendiosas e, numa carta, era mais fácil contar tudo. Eu já tinha tratado do passaporte, das vacinas e entrado numa agência para marcar a passagem, só queria saber que roupa levar e ainda juntava a cópia do passaporte. Sei que alertei para a foto, não era a mesma Marta que tinha saído da faculdade. Essa tinha cabelo comprido e não era órfã de mãe; a nova tentava lidar com um cabelo esquisito que lhe tinha nascido depois da quimioterapia.
A casa também estava diferente. A minha mãe já não me acordava com a bandeja do pequeno almoço e com o resumo das notícias do dia e era estranho regressar a um lugar onde as coisas ficavam imóveis, no sítio onde as deixava antes de sair a correr para ir almoçar a casa das minhas tias e apanhar o autocarro. O jantar vinha num termo, era uma sopa que a minha tia Teresa fazia todos os dias e comíamos a horas diferentes, desencontrados por causa dos horários. As limpezas fazia uma senhora que a minha tia Conceição contratara e, no quintal, as orquídeas resistiam. A minha tia Alice tratava da venda das estrelícias.
As minhas tias, o meu pai, o meu irmão e eu, todos nós, estávamos de luto. A dona Celina enchia as tardes de domingo naquelas conversas entre primas e irmãs, ouvia os planos do meu pai e as angústias do meu irmão, mas também os sonhos e as ideias de, um dia, ser escritor. De mim, esperava tudo, que tivesse sucesso e fosse feliz e nunca mais ficasse doente. E a viagem ao Oriente, a Macau, com muitos aviões e muitas horas no ar, tinha sido falada enquanto jogávamos ao cassino na sala, ao domingo à noite, durante os meses que durou a quimioterapia. A minha mãe tinha-me prometido que haveria de ir, que ia ficar boa para ter umas férias com todas as raparigas da minha idade, como as minhas amigas de faculdade.
Naquele primeiro Verão, quando ainda nem sabia que a saudade seria para sempre e a falta impossível de repor, foi a ideia das férias por terras distantes e exóticas que aliviaram o aperto no peito, a sensação de injustiça, de ser muito para carregar e de uma vez só. E a viagem mostrou-me mundo, mostrou-me que se pode continuar, que se aprende a viver, até a rir, mas que o luto se faz muito mais devagar, que às vezes custa muito e até se sente na pele e ninguém sabe bem como se trata, nem chega sequer a passar mesmo, assim de forma definitiva.